Resistência malê
Nem vilões, nem heróis. Eram apenas
homens convictos de possuir o mesmo direito à vida e à liberdade que
qualquer outro. Como viviam na Bahia escravocrata do início do século
XIX, eles só conheciam um caminho para alterar o papel que esta
sociedade lhes tinha reservado: a força. Dezenas de revoltas escravas
aconteceram naqueles anos, envolvendo milhares de homens e mulheres.
Apesar dos mortos, dos açoites públicos, da prisão perpétua, do
banimento para a África e dos enforcamentos, eles não desistiram e, nas
primeiras horas do dia 25 de janeiro de 1835, aconteceu a mais ousada de
todas as revoltas: o levante dos malês. Depois de muitas horas de luta
pelas ruas do centro de Salvador e de baixas dos dois lados, a revolta
foi esmagada, mas o respeito que os africanos de religião muçulmana
inspiravam não desapareceu. Não se encontrou um único homem que
aceitasse a recompensa para enforcar os condenados à morte. Apesar de
todo o esforço que foi feito para apagar as marcas da passagem desses
homens por Salvador, elas não desapareceram. Para encontrá-las, basta
saber olhar.
Intimamente, eles deviam saber que, naquele momento,
era impossível chegar ao poder. Mas, sendo homens idealistas,
instruídos, organizados e corajosos, os malês precisavam tentar acabar
com as pequenas e grandes humilhações e torturas a que eles, suas
mulheres e filhos eram submetidos cotidianamente. Eles e todos os
negros. Malê era como os nagôs-iorubás chamavam todos os adeptos da
religião islâmica e a expressão acabou sendo usada também na Bahia. A
elaboração da revolta foi dos malês, mas, naquela noite de janeiro,
participaram escravos e libertos de várias etnias e orientações
religiosas. Os mais numerosos foram os nagôs-iorubás e os haussás. O
objetivo, tudo indica, era envolver na revolta também os escravos dos
engenhos do Recôncavo. A quantidade de documentos ainda preservados
sobre o episódio – disponíveis no Arquivo Público da Bahia – e a rapidez
com que os suspeitos foram julgados e punidos demonstram como esta
revolta surpreendeu e assustou a elite da época. Quase 300 pessoas foram
acusadas e meras suposições de envolvimento foram suficientes para
condenar os suspeitos. Em meio a histeria que tomou conta de Salvador,
africanos inocentes foram perseguidos e agredidos de todas as formas.
Dezenas de pesquisadores já se debruçaram sobre esses documentos
policiais, produzindo vários estudos sobre o tema. O mais detalhado e
respeitado de todos eles é o trabalho do historiador e professor João
José Reis – Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835 – a nossa principal fonte, além dos próprios interrogatórios, que registram as palavras dos acusados.
Outra origem possível para o termo malê
vem da palavra haussá “malãm”, herança árabe, que significa professor,
mestre, explica Reis. Esses africanos muçulmanos que sabiam ler e
escrever – numa terra onde até os mais ricos eram analfabetos – estavam,
de fato, defende o historiador, promovendo um movimento de conversão ao
islamismo na Bahia. Nesse processo, o aprendizado do árabe era parte
fundamental. Reunidos em suas casas, em quartos alugados, no local de
trabalho ou onde mais fosse possível, os malês ensinavam uns aos outros a
ler e escrever, pregando a crença em Alá. Quem não foi descoberto ou
conseguiu sobreviver à repressão após o levante, tratou de disfarçar ao
máximo a sua fé no Alcorão e, principalmente, de afastar os seus
descendentes desse perigoso estigma. Mas ainda hoje existem algumas
pistas, através dos relatos orais, que permitem entrever detalhes não
descobertos pela polícia e algumas heranças deixadas pelos malês. O
principal legado parece ser justamente a importância creditada à
instrução, que levou muitos dos descendentes dos malês baianos à
ascensão social, realizando assim o sonho dos seus antepassados de
superação da opressão, mesmo que, agora, não mais guiados pelo profeta
Maomé.
A LUTA
Era sábado. Durante todo o dia, o movimento de barcos
e escravos chegando do Recôncavo tinha sido estranhamente intenso. Eles
vinham para juntar-se ao “maioral”, que, se dizia à meia voz, já estava
em Salvador. Nos processos, ele é descrito pelos acusados como um
“negro nagô de estatura ordinária com quatro signaes (sic) de cada face
em direitura aos cantos da boca, conhecido pelo nome em sua terra Ahuma
ou Arruna, escravo cujo senhor rezidindo (sic) agora em Santo Amaro, era
morador e tem propriedade na rua das Flores desta cidade”. O objetivo
era iniciar o levante ao amanhecer do domingo. Os brancos estariam
envolvidos com as comemorações de Nossa Senhora da Guia, que levava uma
multidão de pessoas ao Bonfim desde o sábado à noite. E os muçulmanos
estariam fortalecidos pelo poder místico do Ramadã, o período do ano
mais importante para eles, mês de jejum e preces contínuas. Convertendo o
dia do levante para o calendário muçulmano, o historiador João Reis
descobriu que a data escolhida foi exatamente o final do mês de jejum:
25 de Ramadã A.H. 1250.

Antes que o dia terminasse, entretanto, os revoltosos
foram delatados três vezes. Primeiro, o liberto Domingos Fortunato
mandou escrever um aviso ao seu antigo senhor – Fortunato da Cunha –
sobre os boatos que circulavam pela cidade, “por ter medo de ir ali em
pessoa avisá-lo”. Depois, foi a vez de Guilhermina de Souza, mulher de
Domingos, procurar o seu ex-senhor, acrescentando que tinha ouvido que
às 5h: “Quando os escravos se dirigissem às fontes para apanhar água
como faziam todos os dias, eles seriam convocados para uma revolta”,
conta Reis em seu livro.
E, após ouvir novos relatos da amiga Sabina da Cruz,
cujo marido estava reunido “em caza de huns (sic) pretos de Santo Amaro,
a rua da Guadalupe”, que queriam tornar-se senhores dessa terra,
Guilhermina procurou seu vizinho branco André Pinto da Silveira e contou
tudo o que sabia. Aí, então, deram ouvidos ao relato e a informação
chegou ao juiz de paz da freguesia da Sé e, de lá, ao palácio do
governo. Às 23h, o presidente Francisco de Souza Martins já tinha tomado
as primeiras providências para impedir o levante.
Na Ladeira da Praça, no subsolo do sobrado de número
dois, acontecia a reunião que Sabina tinha delatado. O quarto era de um
carregador de cadeiras, o nagô liberto Aprígio e de Pai Manoel Calafate,
liberto iorubá muito respeitado entre os muçulmanos, que fazia da sua
casa um importante centro de reuniões. Havia muitos outros locais
similares, às vezes num quarto alugado, nos fundos da casa de um senhor
mais tolerante e dizem que, também, em casas de negros mais abastados.
Locais onde aconteciam refeições, conversas, rezas, aprendizado da
língua árabe e também onde se organizava a revolta. Naquela noite, o
grupo reunido na casa de Calafate e Aprígio fazia os últimos
preparativos, seguindo a tradição descrita pelo pesquisador Manuel
Querino de, no período do Ramadã, fazer apenas refeições de inhame com
azeite de cheiro e sal, bolas de arroz machucado com açúcar e água.
Naquele mesmo dia, Sabina tinha vendido inhame à africana Edum, sem
saber que era para o banquete dos malês. Entre eles, estava Ahuna.
Depois de revistarem várias casas de
africanos, o juiz, o tenente e dois soldados chegaram à porta dos
rebeldes, como descreve o historiador:
- Estavam prontos para arrombá-la quando
ela foi aberta subitamente para dar passagem a um número estimado entre
50 e 60 africanos, que saíram atirando, agitando suas espadas, aos
gritos de “mata soldado” e palavras de ordem em língua africana.

Descobertos antes da hora, os malês tiveram que
iniciar o seu levante ali mesmo, por volta de 1h da manhã do dia 25.
Portando espadas e amuletos – principalmente papéis com trechos do
Alcorão e rezas fortes bem dobrados e colocados em bolsinhas de couro
costuradas -, eles vestiram-se de branco para ir às ruas. Por isso, os
seus abadás, camisolões folgados e compridos, que eles até então só
“usavam em casa, longe de olhares curiosos, durante rezas e rituais”,
como conta Reis, passaram a ser considerados roupas de guerra. A maioria
das armas eram espadas, o que desequilibrava a luta, favorecendo as
tropas do governo, munidas de armas de fogo.
No conflito que se seguiu, no sopé da ladeira, os
rebeldes perderam dois homens – um deles morto a cacetadas e outro com
um tiro – e feriram cinco inimigos, um mortalmente e outro com
“ferimentos deformadores no rosto e na cabeça”, detalha Reis. Por ironia
do destino, entre os mortos estava justamente Sule, o marido de Sabina
da Cruz, que havia informado o local da reunião. Uma parte dos rebeldes
não tinha enfrentado a polícia, escapando pelo quintal, que se
comunicava com a casa de dois libertos na Rua das Verônicas. Depois de
afugentar os soldados, uma parte dos revoltosos saiu pelas ruas
acordando os companheiros e convocando-os para a luta, enquanto a
maioria deles foi até a prisão, no subsolo da Câmara Municipal, para
conseguir armas, novas adesões e “libertar Pacífico Licutan, um mestre
muçulmano muito estimado que lá se encontrava preso”, diz o historiador.
A tentativa fracassou: no confronto, muitos insurgentes e alguns
guardas saíram feridos. Um dos guardas foi morto.
Da Praça do Palácio, alguns deles recuaram para o
Terreiro de Jesus e o grupo maior seguiu para o Largo do Teatro, hoje
Praça Castro Alves. Apesar da escuridão das ruas, pelo relato das
testemunhas se sabe que mais pessoas juntavam-se aos rebeldes a cada
momento. Sempre buscando ocupar os postos policiais e conseguir armas,
na praça, “todos atacaram a pequena força de oito homens plantada à
frente do teatro, feriram cinco deles, se apossaram de suas armas e os
colocaram para correr”, conta Reis. Em seguida, o grupo tentou, em vão,
dominar o próximo quartel no seu caminho, o do convento de São Bento.
Como saldo, alguns soldados feridos e alguns rebeldes mortos.
Novamente em marcha, o grupo fez uma pausa no
Convento das Mercês, onde tinham como aliado o sacristão, o escravo
Agostinho. Aí, foram surpreendidos por uma ronda policial, que os
rebeldes fizeram recuar até o poderoso Forte de São Pedro. Essa luta
teve como saldo três soldados feridos, a morte do sargento da Guarda
Nacional e mais alguns rebeldes feridos. Acrescidos de alguns reforços
que vieram da Vitória, o grupo atacou então o Quartel da Lapa, onde hoje
é o Colégio Central. Novamente os soldados conseguiram resistir.

O grupo continuava aumentando. Passou pela
Barroquinha, retornou ao Terreiro de Jesus – nova tentativa infrutífera
de invadir a cadeia -, atacou os guardas do Colégio dos Jesuítas e,
seguindo o plano original, encaminhou-se para a Cidade Baixa, passando
pelo Pelourinho e Taboão. Segundo Reis, o objetivo era atingir o
Cabrito, onde encontrariam os escravos dos engenhos próximos a Salvador.
Mas quem caminhasse naquela direção tinha que, necessariamente, passar
pelo Quartel da Cavalaria, em Água de Meninos.
Aí, a situação se inverteu: os rebeldes pela primeira
vez não queriam atacar o quartel, mas apenas passar, enquanto os
soldados tomaram a iniciativa de atacar os revoltosos. O preço pago pelo
descuido foi o fracasso do levante. Sobre o que aconteceu, só existem
os relatos da polícia. Por volta de 3h da manhã, o chefe de polícia
tinha acabado de chegar ao quartel, vindo do Bonfim, onde tinha deixado
18 guardas em alerta para proteger a população. Logo em seguida,
aparecem os rebeldes, que “usavam lanças, espadas, porretes e pistolas,
mas não atacaram o quartel”, afirma Reis. Os soldados a pé entraram no
quartel, enquanto os que estavam a cavalo partiram para a ofensiva. O
primeiro grupo de rebeldes foi disperso, mas uma leva de retardatários
surgiu e partiu para o ataque. Os soldados se abrigaram no forte e “de
lá, durante uns 15 minutos, atiraram com segurança contra seus
adversários”.
Muitos conseguiram fugir, 19 tombaram no local, 13
feridos foram aprisionados, “outros tentaram fugir a nado, mas morreram
afogados, foram capturados ou fuzilados pelos marinheiros da fragata
Baiana”, contabiliza o historiador. Por volta de 6h da manhã, dois
grupos de africanos, talvez desavisados, foram às ruas para guerrear e
rapidamente foram esmagados. Numa estimativa imprecisa, o historiador
acredita que cerca de 400 a 600 africanos tenham ido às ruas naquela
madrugada, armados principalmente de facas e espadas, lutando contra
soldados com armas de fogo dentro de quartéis. Os rebeldes não feriram
uma única pessoa com pistola, só com objetos cortantes.
Alguns relatos confirmam que o objetivo não era
sitiar Salvador, mas “fazerem o que pudessem” e partir logo para o
Recôncavo, juntando-se aos escravos dos engenhos. Entre os que deram
depoimentos contra os rebeldes, alguns afirmam terem ouvido naqueles
dias frases como “matar os brancos, crioulos e cabras, e ficar com os
mulatos para seus escravos e lacaios”. O fato é que os rebeldes não
invadiram casas, não promoveram saques nem atacaram seus senhores e suas
famílias, ainda que alguns sofressem o “mau cativeiro”. O que teria
acontecido se a revolta desse certo é impossível saber, mas,
possivelmente, os 27.500 escravos de Salvador naquela época – cerca de
42% da sua população – estariam mais perto de uma vida com respeito,
liberdade religiosa, sem torturas físicas, trabalhos forçados e abusos
sexuais. Uma vida simplesmente humana, ainda inacessível para todos
eles.
INFERNO NA TERRA
Motivos para as revoltas não faltavam. Além das
humilhações, péssimas condições de vida e excesso de trabalho, muitos
senhores submetiam seus escravos a inacreditáveis violências físicas.
Milhares de relatos comprovam que, no Brasil dessa época, a crueldade
contra os escravos era uma prática comum e vista até como necessária,
educativa, já que eles não eram encarados como seres humanos dotados de
alma. Pior ainda era a situação de quem estava nos engenhos, um quadro
que o Padre Antonio Vieira descreveu como o inferno na terra. Mesmo os
negros libertos, inclusive os que chegaram a adquirir algumas posses,
estavam sempre um degrau abaixo dos outros cidadãos. Afinal, a própria
cor da pele era um sinal indisfarçável da origem escrava.
O assunto desconcerta qualquer um que se dedique a
estudar documentos coloniais, como o jornalista, escritor e pesquisador
Georges Bourdoukan, que não deixa de lembrar, estarrecido:
-
Eles castravam os homens, cortavam o bico dos seios das mulheres. Tinha médicos que faziam experiências com crianças. Isso acontecia.
No seu depoimento à polícia, o escravo nagô Francisco
narra casualmente “que elle tendo sido levado por seo Senhor para a
Roça no Cabula, onde foi surrado, ficou lá se curando”. Enquanto o
Mestre Pacífico Licutan, senhor de cabelos brancos a quem todos tomavam a
benção, estava na cadeia como garantia “por dívida contraída pelo
Doutor Varela junto aos padres Carmelitas”, cita o antropólogo Pierre
Verger, em seu livro Fluxo e Refluxo, onde dedica muitas
páginas aos malês. Apesar da comunidade malê tentar comprar a liberdade
de Licutan, o seu dono – o cirurgião Antonio Varela -, negava-se a
alforriá-lo.

Um fator complicador deste período é que, a esses
problemas e tensões, somavam-se as conseqüências de uma crise econômica,
tornando a vida dos escravos e da população pobre ainda mais difícil.
Tanto que alguns episódios do período, incluídos entre as revoltas
escravas ou de homens livres, poderiam ser melhor definidos como saques
por armas e alimentos. Com a guerra da independência, a situação só fez
se agravar. O professor João Reis lista os problemas: dificuldades na
exportação, diminuição da mão-de-obra escrava – que precisava dar conta
de mais trabalho -, aumento generalizado de preços, desemprego para os
homens livres, falta de alimentos:
- Em março de 1834, a Câmara Municipal de Cachoeira, a segunda maior comarca da província escrevia para o presidente da província que havia chegado “ao último excesso o preço da farinha, [...] não podendo por isso a classe menos abastada deixar de sofrer fome, da qual já tem resultado a morte de algumas pessoas”.
A lista de revoltas escravas do período é grande. A
que foi programada pelos haussás de Salvador, em 1807, nem chegou a
acontecer, pois foi descoberta antes, mas a punição foi dura: duas
execuções e 11 punições com 150 açoites. Em 1809, cerca de 300
quilombolas haussás, jejes e nagôs fugidos de Salvador e engenhos do
Recôncavo atacaram Nazaré das Farinhas. “Não se sabe do destino dado aos
83 homens e 12 mulheres capturados”, explica Reis. Em 1814, o cenário
do conflito volta a se aproximar de Salvador: uma peixaria em Itapuã.
Sobre esse episódio, Verger fala no envolvimento de mais de 600 escravos
que se rebelaram, atearam fogo às instalações, mataram 13 pessoas e
feriram oito. Foram barrados quando seguiam para o Recôncavo. Reis
fornece os números: 58 mortos em batalha, mais de 20 mortos nas prisões,
quatro enforcados na Praça da Piedade, muitos punidos com açoites e 23
deportados para colônias penais na África.

As rebeliões prosseguiram: 1816, em Santo Amaro e São
Francisco do Conde; 1822, em Itaparica e em Pirajá; 1826, no Quilombo
do Urubu; 1827, em Cachoeira; 1828, novamente em Itapuã. O episódio de
10 de abril de 1830, em pleno coração de Salvador, demonstrou que a
situação estava chegando ao limite: 20 africanos assaltaram três lojas
no Taboão para conseguir armas, feriram duas pessoas e seguiram parar um
mercado de escravos nas proximidades, onde libertaram os homens que
estavam ali para ser vendidos. Cem deles uniram-se aos rebeldes e 18,
que não quiseram participar, foram mortos. O grupo seguiu então para um
posto policial nas proximidades e lá, quando chegaram reforços da
polícia, foram dominados. A carnificina foi à altura da ousadia: 40
prisioneiros e 50 mortos. A partir daí, os cuidados são redobrados:
toque de recolher às 21h, proibição de reuniões e batuques de negros,
todos os suspeitos deveriam ser mantidos nas prisões e os inocentados só
poderiam sair da cadeia se fossem vendidos para longe. O problema é que
nos outros estados ninguém queria comprar os revoltosos escravos
baianos.
Fica evidente, então, que o levante dos malês não foi
um episódio isolado, uma guerra de fanáticos religiosos, como
defenderam alguns estudiosos, ainda que, sem dúvida, a religião tenha
dado outra dimensão a esse episódio. Os malês eram vistos e se sentiam
como uma elite entre os africanos. As diferenças começavam com o
monoteísmo religioso, ao contrário da religião africana tradicional,
passando pela forma de se alimentar, vestir e domínio de uma língua
escrita. Organizados, eles recolhiam dinheiro entre o grupo para pagar a
diária da sexta-feira aos senhores, dia em que nenhum muçulmano deve
trabalhar, e para comprar cartas de alforria, como contou o liberto
Belchior da Silva Cunha, apontado pela polícia como um dos líderes da
revolta. Para tentar definir o “jeito de ser” dos malês e, ao mesmo
tempo, negar seu envolvimento com eles, o alforriado João Ezequiel disse
à polícia que não se converteu ao islamismo “porque todos querem ser
padres e não comer toucinho”. Abdul Hakin, membro do Centro Cultural
Islâmico da Bahia, convertido à religião em 1991, explica que o consumo
de carne de porco é proibido pelo mal que provoca à saúde, assim como a
ingestão de bebidas alcoólicas.

Apesar de serem minoria na Bahia daquela época, a
importância dos malês era crescente, inclusive porque, na África, a
expansão muçulmana estava a pleno vapor. Os haussás que chegavam aqui já
eram majoritariamente islâmicos e muitos nagôs-iorubás foram
convertidos na Bahia ou ainda na África. Alguns africanos consideravam
os malês arrogantes, mas os seus amuletos eram respeitados e usados por
muçulmanos e não-muçulmanos. O que provocou certamente a condenação de
inocentes, pois o simples fato de possuir papéis com escrita árabe em
casa foi considerado prova suficiente para a condenação. E, mesmo entre
os malês, seria leviano afirmar que todos estivessem envolvidos com a
revolta.
Pela proporção e ousadia, a revolta de 1835 precisava
ser punida exemplarmente, pensava a elite da época. Na verdade, o clima
de caça às bruxas dominou boa parte da população. A mera aproximação
com o islamismo ou qualquer atitude diferente do comum foram suficientes
para levar centenas de pessoas ao banco dos réus e daí para as
punições. Um exemplo é o caso das duas mulheres que tinham saído às ruas
no dia 24 com gamelas de acassás especialmente grandes e, por isso,
foram consideradas suspeitas. Os grandes delatores foram os vizinhos dos
revoltosos, fossem eles negros, brancos, escravos ou libertos. Alguns
senhores defenderam bastante os seus escravos, para proteger o
patrimônio ou por certeza da inocência. Alguns ingleses chegaram a
impedir que suas casas fossem revistadas, mas com a suspensão das
garantias civis individuais por 30 dias, os últimos suspeitos – 50
escravos – foram capturados nessas residências, como conta Verger:
- De acordo com os relatórios da polícia, estes escravos tinham formado clubes e se reuniam em cabanas de palha que haviam construído, notadamente no fundo do jardim dos ingleses Stuart, na ladeira da Barra, e Abraham, no caminho da Vitória.
Reis acredita que a destruição pela polícia de uma
dessas “mesquitas”, algum tempo antes, tenha inclusive estimulado ainda
mais o plano de rebelião.

Nem é preciso usar muito a imaginação para saber o
que aconteceu a partir do dia 25. Todas as casas de africanos foram
invadidas e revistadas, em muitas delas todos os moradores foram presos,
independente da relação com a revolta, inclusive crianças e mulheres
grávidas. Soldados e população promoveram vários ataques a negros, o que
chegou a preocupar até o chefe de polícia. Além das armas, manchas de
sangue e ferimentos, era indício de culpa possuir roupas, rosários e
amuletos malês, textos em árabe, pranchas de madeira para escrever e
anéis de prata, distintivo dos malês. Apesar da pressão que sofreram e
até das torturas da polícia, como queixou-se o advogado do escravo
Manuel, os interrogados falaram muito pouco.
Em poucas semanas, saiu o resultado dos primeiros
julgamentos. Seguindo o Código Criminal da época, a tendência foi
preservar o patrimônio: deportar os libertos e punir os escravos. O
número de chibatadas variava de 50 a 1.200, sempre ministradas em doses
diárias de 50, no Campo da Pólvora ou Água de Meninos, nas costas e
nádegas de corpos despidos. Um dos condenados – o escravo Narciso –
morreu em conseqüência dos ferimentos. A pena de morte foi dada
inicialmente a 16 homens, mas, por intervenções posteriores, elas foram
modificadas, restando a quatro “rebeldes comuns”, como diz Reis, o papel
de cobaias para este “espetáculo intimidatório”. O local escolhido foi o
Campo da Pólvora, no dia 14 de maio.
Deportar os africanos também não foi tarefa fácil. O
governo custeou o envio de 200 pessoas, mas a maioria teve que pagar o
próprio transporte. De escravos comprados a peso de ouro, os africanos
tinham se transformado em imigrantes indesejáveis, em inimigos. Fazendo
um balanço de tudo o que aconteceu, Reis acredita que 70 pessoas
morreram e que cerca de 500 foram punidas, com prisão, deportação,
trabalhos forçados ou açoites.
LEGADO MALÊ
“Os rastros nunca desaparecem: é preciso saber
olhar”, aprendeu o escritor Georges Bourdoukan, em suas andanças com os
bérberes do Norte da África. E foi justamente lá, do outro lado do
Atlântico, que Bourdoukan ouviu falar pela primeira vez de Ahuna, como
“aquele que vê sem ser visto”, o “homem que surgiu do nada”, vindo de um
país “com uma árvore gigantesca que dava algodão” – a paineira – e
islamizou toda aquela região. Várias pistas colhidas lá, confrontadas
com detalhes da revolta de 1835 e histórias ouvidas em São Félix e
Cachoeira, fazem Bourdoukan acreditar que o líder malê nunca descoberto
pela polícia conseguiu mesmo escapar através do Recôncavo e voltar para a
África.
Inúmeras marcas da passagem dos malês pela Bahia
ainda estão à nossa volta, mas desvendá-las é uma tarefa quase sempre
muito delicada.
-
Malê? Isso é coisa de africano. Eu não tenho nada para falar sobre malê. O meu pai já faleceu – responde, irritada, uma senhora descendente de um malê que não aceitou dar entrevista, traduzindo o peso que recaiu sobre essas pessoas após a revolta e a necessidade de mascarar a própria origem.
Uma história antiga, que muita gente prefere
esquecer. Afinal, para quem permaneceu na Bahia depois da revolta, a
situação ficou bem opressiva, como explicou a historiadora Manuela
Carneiro da Cunha em seu livro Da senzala ao sobrado. Além da
promulgação de uma lei permitindo “reexportar africanos forros de
qualquer sexo sob a simples suspeita de promover, de algum modo, a
insurreição de escravos”, os libertos foram pressionados a emigrar ou a
se tornarem trabalhadores rurais Foram também proibidos de adquirir bens
de raiz, de alugar imóveis e anularam-se muitos títulos de propriedade.
Algumas pistas interessantes sobre os malês podem ser
encontradas nas sociedades e irmandades religiosas negras, instituições
das quais muitos deles buscaram se aproximar, principalmente após a
revolta. Nesses ambientes, eles podiam continuar expressando sua fé
monoteísta, ainda que agora católica, e continuar organizados,
construindo redes de ajuda mútua, inclusive para a compra da alforria.
Criada em 1685 pelos angolas, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos,
só após um bom tempo, começou a aceitar integrantes brasileiros e,
depois, negros de outras etnias, contou o mestre de noviços e cientista
social Albérico Paiva. O segundo santo mais importante da igreja é um
santo negro muçulmano convertido ao catolicismo: Santo Antonio de
Catergeró. Sobre a relação da irmandade com os malês, Paiva confirma:
- É verdade que tinha alguns muçulmanos aqui.
Acrescenta que o toucinho presente na bacalhoada da
festa de Nossa Senhora do Rosário tentava disfarçar essa presença. Já
Ivone Paixão, de 76 anos, sobrinha de Gibirilu – o último “malê
ostensivo da Bahia”, na definição do historiador Cid Teixeira -, defende
que a comida servia também como um teste:
-
Se comesse o toucinho, todos sabiam que não era malê.
Manoel do Nascimento Santos Silva, o Gibirilu, foi um
desses homens que, mesmo sempre andando acompanhado do seu caderninho
verde com anotações em árabe e fazendo suas orações diárias voltado para
Meca, integrava a Irmandade do Rosário. Segundo Dona Ivone, seu tio
também era muito ligado à Sociedade Protetora dos Desvalidos e ao Centro
Operário, outras instituições de caráter assistencial e educativo
criadas por negros baianos no século XIX. Gibirilu inclusive morava no
Centro Operário, um misto de ambiente para formação profissional e
sindicato. Lá, recebia pessoas como Tibúrcio Souto, também ligado à
Irmandade do Rosário, da qual foi prior, e à Sociedade Protetora dos
Desvalidos. A relação entre os malês e essa última instituição é ainda
mais misteriosa.
-
Apesar de ser de pouco falar, em casa, de vez em quando, ele falava da Igreja dos Quinze Mistérios, dizendo que aquilo tudo era nosso: “É de vocês. Nós que fizemos, lutamos, derramamos o nosso sangue” e que a gente tinha que procurar ver isso – conta Dona Ivone sobre seu tio.
Essa igreja serviu como a primeira sede da Irmandade
de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos, fundada em 1832 pelo
ganhador africano livre Manoel Victor Serra – um malê1.
Anos depois, ela se transformou na Sociedade Protetora dos Desvalidos,
abandonando de vez a fachada religiosa e assumindo claramente o objetivo
de ajuda mútua, o amparo aos negros através de um fundo comum, explica o
antropólogo Júlio Braga. Em 1833, Serra promoveu inclusive uma loteria
para arrecadar fundos. Em 1834, foi eleita a diretoria. A suposta
proximidade com a revolta dos malês vem também da afirmação do
pesquisador diletante Antonio Monteiro de que a Capelinha dos Quinze
Mistérios teria sido o quartel-general secreto dos malês, local de
encontro dos líderes, onde toda a revolta foi organizada, numa estrutura
definida como uma espécie de maçonaria negra: o Conselho dos
Assumânicos.
Monteiro conseguiu essas e outras impressionantes
informações sobre os malês através de relatos orais, principalmente de
três informantes, sob a condição de que só lançaria o seu livro Notas sobre negros malês na Bahia
depois que todos os três estivessem mortos. Assim, a única opção é
confiar na palavra do autor, também já falecido. Os integrantes dessa
elite malê, afirma Monteiro, se reuniriam também em outros locais aos
quais os iniciantes não teriam acesso, o que não parece improvável, já
que, até num depoimento à polícia, após a revolta, um acusado comentou
que: “Quando se juntavão era no sotão de Belchior, onde elle não entrava
na reza por ser principiante”. No Largo dos Quinze Mistérios ficaria
também uma casinha com dinheiro e armamento, o Bogum. No bairro dos
Barris, diz Monteiro, estaria localizada a mesquita central, onde morava
Luis Firmino, o chefe maior. Ajudando a tese de Monteiro, existe nos
Barris a Rua da Mesquita dos Barris e Nina Rodrigues deixou registrado
que o seu principal informante e líder dos malês se chamava Luiz.
DESCENDENTES
A melhor pista da passagem dos malês, continua,
entretanto, nos hábitos e valores deixados para os descendentes.
Austeridade e moderação são palavras-chave para os islâmicos, explica o
sheik Abdul Ahmad, do Centro Islâmico da Bahia:
-
Na alimentação, por exemplo, a recomendação é um terço de espaço para comida, um terço para a água e um terço para o ar.
A caridade é obrigatória, assim como a busca contínua
de conhecimento, por homens e mulheres. Misbah Akani, diretor da Casa
da Nigéria, conta que o profeta Maomé, que não sabia ler e escrever, foi
alfabetizado por Deus e que o primeiro ensinamento que lhe foi
revelado, transcrito na 96ª surata, diz justamente: “Lê, em nome do teu
Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê, que o teu Senhor é
Generosíssimo”.
-
Eu nunca conheci outro Deus que não o Cristo. Minha família toda é católica. Meu avô foi prior da Irmandade do Rosário e morava lá até.
Mas, como o seu avô era de fato amigo íntimo de
Gibirilu, com quem se encontrava diariamente, Antonio Carlos acredita
que ele pudesse ter mesmo alguma curiosidade pela cultura árabe. Mas é
principalmente quando conta a sua própria história, que Souto nos dá
exemplos concretos de uma muito discreta rede de solidariedade que os
negros criaram desde a Bahia colonial, centrada na busca constante de
crescimento intelectual e profissional. O seu avô era um carpinteiro que
gostava muito de ler e, de seu pai, um operário que escrevia com
desenvoltura, ouviu algumas milhares de vezes:
-
Vá estudar, menino.
O próprio Antonio Carlos é um mestre em Economia que chegou a trabalhar
como sapateiro para custear os estudos. A discrição também sempre foi
uma característica marcante na sua família. Apesar de ser ligado à
Sociedade Protetora dos Desvalidos, nunca, sequer por um momento,
Tibúrcio deixou que o neto percebesse isso. Muito menos o seu pai, que
também chegou a se aproximar da instituição. Quando estudante, Antonio
Carlos teve um professor, também membro da Sociedade Protetora, que
muito o auxiliou e lhe arranjou um emprego lá, sempre mantendo o
silêncio. Foi esse professor quem transformou Souto em sócio da
Protetora, uma deferência ambicionada por muitos homens na época. Alguns
anos depois, Antonio Carlos foi convidado para presidir a instituição,
que freqüenta até hoje em dia, por um simples e fundamental motivo: lá,
ele se sente em casa.
Para que olhar as feridas do passado não seja apenas
um exercício masoquista, é importante tentar aprender com essas
experiências. Como acontece em todas as revoltas, de ontem e de hoje, o
levante dos malês foi um episódio ambíguo: belo, porque cheio de
bravura, mas também muito triste, pelos sofrimentos terríveis que
envolveu. Por isso mesmo, não deve ser esquecido. Mas, quem tem olhos
para ver, descobre que a história desse levante e desses homens continua
servindo de inspiração para muita gente. Em Itapuã, funciona o bloco
afro Malê de Balê, usando como armas apenas a sua música, mas que foi
vigiado de perto pela polícia na época de sua fundação. No Engenho Velho
da Federação, existe o terreiro Zogodô Bogum Malê Rundó, onde, dizem
alguns, foi abrigado um fugitivo da revolta. Em Jardim Armação, existem
as ruas Pacífico Licutã e Luiza Marrim (corruptela de Mahim).
Esta mulher, que foi mãe do poeta Luiz Gama, aparece
em alguns relatos orais como uma das líderes da revolta, atuando com
outros líderes num belíssimo sobrado onde hoje funciona um centro
cultural negro: a Casa de Angola. Luiza Mahim vivia neste casarão, o
Solar do Gravatá, no Largo dos Veteranos, bem no sopé da Ladeira da
Praça. Segundo a tradição oral, de lá ela teria participado ativamente
da elaboração da revolta, “despachando mensagens escritas em árabe”,
contaram os informantes de Antonio Monteiro. Numa carta de 1880, o poeta
abolicionista Luiz Gama, filho de Luiza com um rico fidaldo português,
contou a um amigo que era filho natural de uma “africana livre, da Costa
da Mina (nagô de nação, malê), de nome Luiza Mahim, pagã que sempre
recusou o batismo e a doutrina cristã”. Ele a descreve como de baixa
estatura, magra, bonita, “altiva, geniosa, insofrida e vingativa”. Sobre
o pendor revolucionário da mãe, ele informa: “Mais de uma vez, na
Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição
de escravos que não tiveram efeito. E, em 1837, veio para o Rio de
Janeiro e nunca mais voltou”, contam os registros deixados por Gama, que
foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade.
Para quem suspeita de uma possível ascendência malê
na própria família, outras pistas são as seguintes: o nome Luis ou Luisa
eram muito comuns e os malês freqüentemente tinham pianos em casa.
Segundo o historiador Cid Teixeira, muitas famílias negras baianas com
membros que alcançaram grande destaque profissional e ascenderam
economicamente são descendentes de malês. Mas, nesse caso, é melhor que
cada um decida se prefere conhecer melhor o passado ou sepultá-lo para
sempre.

1Seja
carregando cargas, trabalhando como pedreiros, estivadores, remadores,
artesãos, vendedores, entre outras atividades, homens e mulheres negros
livres e escravos executavam quase todo o trabalho. “As relações
escravistas na cidade se caracterizavam pelo sistema de ‘ganho’. O
escravo ganhador era obrigado a dar ao senhor, a cada dia ou semana, uma
quantia previamente acertada […] Os ganhadores, escravos e libertos,
labutavam sobretudo como carregadores de carga e de cadeira […] O
sistema de ganho gerou os cantos, que eram grupos de trabalho
formados por ganhadores escravos e libertos do mesmo grupo étnico e que
se reuniam em locais específicos da cidade à espera dos fregueses”
(REIS, 2003, p. 351-359).

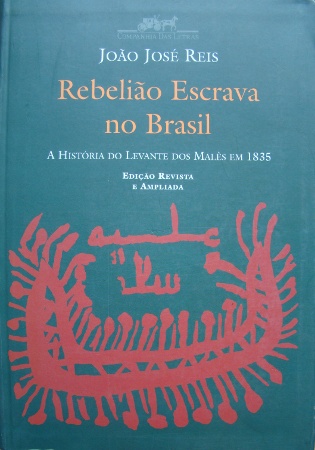









Nenhum comentário:
Postar um comentário