Acará
A cena se repete há décadas, sempre no
mesmo lugar. No pequeno largo que dá acesso à lagoa do Abaeté, ela surge
sem avisar. Toda de branco, veste-se majestosamente, com uma longa saia
engomada, linda bata feita de rendas e torço delicado sobre os cabelos.
Maquiagem, um discreto esmalte cor-de-rosa, colar, brincos, pulseiras e
anéis dourados completam a indumentária dessa filha de Oxum e Iansã,
que combina fala mansa e temperamento obstinado. Com andar firme, mas
sem pressa, mal olha para os lados ao atravessar a rua, enquanto os
carros param para vê-la passar. Quem a vê assim, como uma rainha, nem
imagina que a vida de Cira é feita de muito esforço. Ela acorda cedo,
compra pessoalmente os ingredientes, participa do preparo da massa e
acompanhamentos, orienta suas funcionárias sobre cada detalhe. Depois
vem a hora da venda na rua, fritando os bolinhos e atendendo os
fregueses até altas horas, todos os dias. Quem começou tudo foi a sua
mãe, que já ocupava esse lugar antes dela nascer. Naquele tempo, Itapuã
era pouco habitada, a clientela era pequena e mesmo no resto da cidade
não havia muitas vendedoras da iguaria. Hoje, as coisas mudaram. Aonde
quer que elas estejam – Cira, Dinha1, Loura, Chica, Ivone, Neinha,
Regina e tantas outras – uma multidão se desloca diariamente para
reverenciá-las e deliciar-se com o quitute incandescente que somente
elas sabem fazer: o acarajé.
Feito apenas com feijão fradinho, cebola, sal e frito
no azeite de dendê fervente, não é à toa que esse misterioso bolinho
tem a cor e a temperatura do fogo. O acarajé é um alimento sagrado,
oferecido a Oyá, também conhecida como Iansã, a deusa africana que
controla os ventos, as tempestades, os relâmpagos e tem poder sobre o
fogo. Na religião dos orixás, os homens dialogam com os seus deuses
através dos sacrifícios e oferendas de alimentos. O acará é um deles e
veio parar no Brasil através dos escravos africanos iorubás. Como eram
as mulheres negras que dominavam as cozinhas, não demorou para que essa e
outras receitas africanas começassem a ser conhecidas e admiradas nas
mesas brasileiras, conta Luis da Câmara Cascudo em seu livro A cozinha africana no Brasil.
No Brasil colonial, acarajés, abarás e carurus, entre outros pratos,
eram vendidos nas ruas em tabuleiros que as escravas de ganho
equilibravam sobre suas cabeças, enquanto iam cantando pregões para
atrair a freguesia. Com o que conseguiam juntar, muitas até conseguiram
comprar a própria liberdade.
Corajosas, independentes e empreendedoras, as
“baianas”, como são chamadas, foram aos poucos arriando seus tabuleiros e
se fixando em pontos estratégicos da cidade. Montar um tabuleiro para
vender quitutes na rua, típico hábito africano, passou a significar,
cada vez mais, a garantia do sustento da família. Além do preço
acessível, do sabor delicioso e das qualidades nutricionais do bolinho
de feijão, a simpatia das vendedoras sempre foi um tempero a mais,
ajudando a conquistar uma freguesia cativa. Em Salvador, a partir da
segunda metade do século XX, muitas delas ficaram famosas, como Romélia,
Vitorina, Damásia e Quitéria, espalhadas principalmente pelo Centro e
Comércio. Nas últimas décadas, a cidade cresceu na direção norte,
levando prosperidade às baianas que trabalhavam perto do mar: Dinha, no
Rio Vermelho; Dona Chica, na Pituba; Cira, em Itapuã. Mas há muitas
outras rainhas do dendê, como Regina, na Graça e Rio Vermelho, a Loura
no Horto Florestal, Dona Ivone no Bonfim ou Neinha nas Mercês.
Apareceram também alguns rapazes que nada deixam a dever a nenhuma
baiana, como os irmãos Gregório e Zé Antonio.
Algumas delas chegaram a pegar o tempo do
feijão ralado na pedra, ao modo africano, e do acarajé servido só com
pimenta. A trabalheira era enorme, pois é preciso tirar toda a casca
antes de triturar o grão e, depois, bater bem a massa. Com o passar do
tempo surgiram os moinhos elétricos, para diminuir o trabalho, mas os
clientes exigiam novidades, obrigando as baianas a acrescentar novos
recheios no acarajé, como salada, vatapá, camarões e caruru. O antigo
tabuleiro de madeira sobre um cavalete em X, hoje raramente visto, foi
cedendo lugar aos tabuleiros de alumínio e vidro, maiores e mais
confortáveis. O que não mudou foram as figas, folhas de arruda, fitas e
contas que muitas usam sobre o corpo ou dispõem sobre o tabuleiro para
garantir proteção, tão necessária a quem trabalha na rua. No inverno,
elas lutam contra o vento e a chuva, que afasta os fregueses e respinga
sobre o azeite, provocando queimaduras. No verão, se desdobram para
atender à clientela exigente que não gosta de esperar e só aceita
acarajé bem quentinho.
Microempresárias intuitivas, a maioria das baianas
trabalha todos os dias da semana, empregando filhos, amigos, vizinhos e
sustentando toda a família. No começo, a atividade estava restrita às
filhas de Iansã e Xangô, mas o acarajé se popularizou tanto, que
começaram a surgir baianas de todas as religiões. O bolinho passou a ser
vendido também em lojas, bares, delicatessens, restaurantes elegantes e
supermercados. Com o enorme crescimento do número de tabuleiros,
surgiram também baianas de primeira viagem, que, despreparadas, oferecem
produtos de má qualidade. A atividade foi então regulamentada em
Salvador por decreto municipal, em 1998, definindo normas para a
indumentária, tabuleiro e localização. Em 2002, a divulgação de uma
pesquisa comprovando a falta de higiene no preparo de alguns acarajés
deflagrou uma nova onda de iniciativas que buscam melhorar a qualidade
do produto. A implementação de cursos de capacitação, fiscalização e a
concessão de empréstimos para que as baianas possam modernizar suas
cozinhas passaram a ser assuntos prioritários para prefeituras e
associações. Reconhecido como patrimônio cultural de Salvador, pelos
vereadores, o ofício das baianas de acarajé foi reconhecido, em 2004,
como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Mas, na verdade, o acará de Iansã está
acima de todas as polêmicas e interesses mundanos. Ele é um alimento
místico, artesanal, que só é saboroso se for feito com rigor. Um prato
cheio de segredos, que só podem ser desvendados após anos de observação
paciente; uma receita cheia de riscos, porque envolve o fogo e o azeite
fervente, o sucesso e o fracasso. Sobreviver da fabricação e venda desse
bolinho é um aprendizado duro, difícil, pois significa assumir o
compromisso de ser incansável, ter coragem e disciplina o tempo todo.
Mas, por outro lado, ser baiana é também uma experiência enriquecedora,
que traz, a quem faz essa escolha, um pouco da força de Iansã, a dona
dos acarajés. É também tornar-se capaz de dar colorido e perfume às
nossas comidas, tornando o nosso cotidiano bem mais saboroso.
ALIMENTO DO POVO
Sobre os balcões, caixotes e carrinhos de mão, que
percorrem a feira sem parar, se misturam o vermelho intenso das
pimentas, o dourado do dendê viscoso e o verde escuro dos quiabos,
pimentões e folhas. Por toda parte se vê também feijões e camarões.
Muitos outros ingredientes das comidas dos homens e dos deuses podem ser
encontrados nas barracas da feira de São Joaquim, por isso, é lá que
quase todas as baianas de acarajé se abastecem. As pequenas e as
grandes, as famosas e as anônimas. Mas saber chegar até esses temperos e
frutos do mar e da terra é uma arte para poucos, pois não basta ter
dinheiro: é preciso saber onde comprar, como escolher e negociar. Se não
aprender esses segredos, o comprador não levará o melhor produto e
ainda pode se perder numa das intermináveis vielas da feira misteriosa,
sob o olhar divertido dos feirantes que, como bruxos, sabem tudo que se
passa nesse labirinto de cores, sons, sujeira, cheiros e sabores.

No preparo da massa do acarajé e acompanhamentos, a
busca pelo melhor começa na feira, mas vai muito além dela. Cada detalhe
deve ser respeitado e é necessário vigilância constante para perceber
os imprevistos – massa que azedou, dendê que não serve para a fritura –
suspender as vendas e substituir o produto. Quem ensina é Maria
Francisca dos Santos, a Dona Chica, que vendeu acarajés por 30 anos na
Pituba:
- Ter qualidade é difícil, mas o prejuízo compensa. Se não ganhar hoje, ganha amanhã.
Se o comprador não conhece a feira, pode dar trabalho
chegar até Jailton de Jesus da Pureza. Mas o esforço vale a pena, pois é
lá, na “Casa Pureza”, Rua Cinco, Quadra 7, ou simplesmente “Rua do
Camarão”, que se encontra alguns dos melhores litros de dendê, feijões e
camarões da cidade. Jailton começou em Jaguaripe, onde nasceu e
aprendeu a pescar o camarão e defumá-lo. Quando veio para Salvador, há
mais de 20 anos, começou as vendas no balaio:
- Depois aluguei um box, empacotava o camarão, botava no ônibus e ia vender de porta em porta, no Bonfim. No sábado, vendia no balaio, até que vi que dava pra me manter na feira.
Hoje, em sua barraca espaçosa, ele vende produtos selecionados que vêm de longe:
- Os camarões são do Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, Maragogipe, Nagé, Acupe, Valença. O dendê vem de Valença e Nazaré.
Comprar bons produtos envolve dois quesitos: um bom
fornecedor e um comprador que saiba escolher. O dendê, explica Jailton,
tem os seus mistérios.
- O povo pensa que é só ver bonito e comprar, mas não é. Tem dendê que presta pra moqueca, mas pode não servir pro acarajé. Se espumar quando esquentar, não serve.
No caso do camarão, a alma da comida baiana, o assunto é ainda mais delicado.
- O produto tem que ser do dia, depois que chega aqui, só dura oito dias. Hoje não estão mais defumando o camarão devidamente, porque quanto menos defuma, mais ele pesa.
Com a sua experiência, Jailton se tornou o queridinho
das baianas, por isso, para conseguir produtos da Casa Pureza é preciso
ir cedo. No começo da tarde, muitas vezes, já não se encontra muita
coisa à venda. Os grandes sacos abarrotados com camarões “filé”
empilhados no fundo da barraca, certamente, já estarão reservados para
alguma das suas clientes famosas: Cira, Dinha, Regina ou Neinha.
Saber comprar é importante, mas é só o início de um
longo processo. Antigamente se começava catando o feijão e quebrando os
grãos, para depois colocar de molho, explica Dona Chica. Hoje, o feijão
fradinho do acarajé já é vendido partidinho, só que antes da trituração é
preciso retirar toda a casca, num trabalho meticuloso que envolve
deixar o feijão de molho na água e depois lavá-lo várias vezes, passando
pela peneira, explica José Antonio Vieira, filho de Dona Chica e um dos
mais famosos “baianos” da cidade, ao lado de seu irmão Gregório Bastos,
primeiro homem da família a assumir o tabuleiro.
- Lavar o feijão é a parte mais pesada – explica Zé, que começou pequeno, junto com os irmãos, a ajudar a mãe no preparo do bolinho.
Gregório também lembra que só saía para jogar bola se antes fizesse o amigo prometer que, na volta, o ajudaria a lavar o feijão.
Lavado e sem casca, chega a hora de triturar os
grãos, em moinhos elétricos que se compra na feira ou lojas populares.
Então é hora de bater bastante a massa com uma colher de madeira e
depois acrescentar sal e cebola ralada. Aí, é fritar pequenas porções no
dendê bem quente. Como a massa está crua, é preciso ter cuidado para
que não azede com o calor, recomenda Zé. Exigentes, Dona Chica, Cira e
Dinha contam que, para garantir a qualidade, acompanham todas as etapas
de perto.
- Nunca confiei em ninguém, sempre fiz tudo – diz Dona Chica, que hoje só faz acarajés em casa, por distração.
Cira vai com freqüência na feira escolher os ingredientes:
- Senão vem mercadoria ruim.
Enquanto Dinha até desistiu de manter suas franquias em Brasília e Rio de Janeiro:
- Acarajé é comida caseira, não dá pra industrializar, tem que ser feita todo dia.
Com a experiência, cada uma desenvolveu suas técnicas para zelar pela reputação. O exemplo de Dona Chica é seguido pelos filhos:
- Cansei de parar de assar e voltar pra casa, porque o azeite não estava bom. Também joguei panelas inteiras de massa no lixo, porque tinha algum problema.
Cira, não satisfeita em usar o camarão mais caro da
cidade, também os lava, cozinha e tempera. Já Dinha, no restaurante que
construiu no coração do bairro do Rio Vermelho, usa fogareiros e panelas
de aço para manter tudo aquecido.
Tanto rigor não é à toa, pois o acarajé é um alimento
sagrado, para o corpo e o espírito. No passado, para montar um
tabuleiro e ir vender na rua era preciso ser filha de Iansã ou Xangô e
ser designada pelos orixás para cumprir essa missão. Na África, explica o
antropólogo Pierre Verger em seu livro Orixás, Oyá, também
chamada de Iansã, é a divindade dos ventos, tempestades e do rio Níger,
que se chama Odò Oya, em iorubá. Conta a lenda que, após se separar de
Ogum e se unir a Xangô, Iansã foi enviada pelo segundo marido à terra
dos baribas em busca de um preparado que, ingerido, lhe daria o poder de
lançar fogo e chamas pela boca. Ousada, Iansã provou do líquido,
tornando-se também capaz de cuspir fogo, conta Verger. É por isso que,
para homenagear esses deuses, os africanos fazem cerimônias com o fogo,
como o ajere e o àkàrà. Na primeira, um iniciado carrega na cabeça uma
panela cheia de furos com fogo dentro. No àkàrà, os iniciados engolem
mechas de algodão embebidas em azeite-de-dendê em combustão, narra o
pesquisador.
Filhas de Oxum vendem cocadas, filhas de Nanã,
mingaus, filhas de Oxossi vendem frutas e filhas de Iansã e Xangô,
acarajés, explica a cachoeirana Ivone do Carmo, que vende acarajés ao
lado da igreja do Bonfim há mais de quatro décadas.
- Quando tinha 12 anos, fui num terreiro perto da minha casa, no Pau Miúdo, procurar emprego. Tomei a benção, peguei a conversar e perguntei se precisavam de empregada. Veio a mãe-de-santo, Maria do Socorro, e disse que eu não ia ser empregada não, que ia ser do terreiro, porque ela tinha sonhado com uma senhora dando uma menina a ela. Ela terminou de me criar e me iniciou. Eu tomava conta de tudo. Foi lá que eu aprendi a fazer os acarás dele, compridinhos, e os dela, bem redondinhos. Fazia pra comida, pra vender do lado do barracão e repartir no candomblé. Ainda mocinha vim morar no Bonfim e aqui eu tive um sonho com Iansã me dizendo: “Ivone, você vai ser baiana, a baiana mais famosa da Bahia”.
Obediente, essa filha de Xangô não pestanejou e, até
hoje, mantém no alto da colina sagrada o seu tabuleiro, que é também o
local de encontro com uma legião de amigos e filhos de consideração que
ela arranjou em todos esses anos em que enfrentou os perigos da rua, o
vento, o sol e a chuva, para alimentar o povo baiano com o acará
africano.
RECEITA AFRICANA
São apenas 9h de uma manhã de quarta-feira e o Largo
do Pelourinho já está tomado pela multidão que transborda do templo azul
e dourado erguido pelos escravos, a Igreja do Rosário dos Pretos. Nas
saias, blusas, calças e adereços, todos os tons de vermelho e branco,
para homenagear Santa Bárbara e Iansã. Enquanto desce apressada a
ladeira em direção à missa, a mulher comenta:
- Tudo que tenho, devo a ela, meu apartamento, meu carro. Ave Maria, graças a Deus sou filha de Iansã.A amiga, orgulhosa, responde:
- Eu também, sou filha de Xangô.
A missa já está perto do final, quando Iansã resolve
mostrar a sua presença: nuvens negras surgem de repente e pingos grossos
desabam sobre o povo, abençoando-o.
- Já estava até demorando, porque no dia dela sempre tem trovoada – explica uma senhora.
Na Bahia, todos os anos é assim: quatro de dezembro é
dia de homenagear a santa do manto vermelho e a orixá dos ventos e das
tempestades. Dia em que tem emoção, chuva, procissão, música e muito
acarajé.
Essa mistura de fé e comida é uma história antiga,
que começou na África, prosseguiu no Brasil e perdura até hoje, porque
as comidas que os africanos faziam para oferecer aos seus deuses caíram
no gosto dos brasileiros e nunca mais deixaram de ocupar um lugar de
honra em nosso cardápio. A semelhança é tão grande que um africano se
sente em casa na Bahia, como conta a empresária nigeriana Rasidat Lola
Akanni. Morando há mais de 10 anos no Brasil, quando quer relembrar o
sabor do legítimo acará da sua terra, bem crocante, ela não precisa
fazê-lo em casa, apenas vai ao tabuleiro de uma certa baiana.
- Na África, o nosso abará se chama moìn-moìn, explica Rasidat.
É uma massa de feijão fradinho bem lavado e temperado com cebola, pimentão, tomate, gengibre e dendê. Depois a gente coloca camarão e ovo cozido dentro e cozinha na água enrolado na folha da bananeira.
Como é considerado um alimento leve, ele é comido “de
manhã, junto com o mingau”, conta ela. O caruru tem quiabos, dendê,
pimenta, camarão e carne ou peixe:
- A gente come na hora do almoço, junto com amalá, uma bola de massa feita no fogo com farinha de inhame seco e água.
Já o acará é:
- A massa de feijão moída com temperos como pimentão, cebola, pimenta e, quando vai fritar, coloca camarão ou peixe dentro. A gente come qualquer hora, em qualquer lugar, é uma merenda. Lá, vende acará na rua, na feira, no restaurante. As mulheres ficam sentadas fritando e servindo, como aqui – conta a nigeriana, que também entende de comida e prepara banquetes africanos por encomenda.
Segundo o antropólogo Vivaldo da Costa Lima em seu texto Etnocenologia e etnoculinária do Acarajé, a palavra acarajé pode ser uma versão reduzida do pregão cantado pelas antigas vendedoras ambulantes. Na sua música A preta do acarajé,
Dorival Caymmi reproduziu livremente um deles: “O acará jé ecó olailai
ô”. Pregão que era um convite aos fregueses para virem comer (jé) a sua
iguaria (acará). Em cada grupo étnico iorubá o acará era feito de certa
forma, explica Costa Lima: acarakere bem pequeno entre os egbá,
acarájexá bem maior, entre os ilexá. Na Bahia, aos poucos, se definiu um
tamanho médio para a venda ao público. O que não mudou foi o desabafo
que Caymmi ouvia da baiana e registrou em sua canção: “Todo mundo gosta
de acarajé, mas o trabalho que dá pra fazer é que é”.
Muitos dos ingredientes e receitas vieram da África,
mas foi na cozinha das nossas casas-grandes e senzalas que surgiu a
culinária afro-brasileira, tendo como elementos centrais o dendê
africano, a pimenta sul-americana e o côco da Índia. Como lembra Luis da
Câmara Cascudo em seu livro, escravos iorubanos foram levados para
muitos lugares, mas somente aqui a culinária africana se aprimorou e
difundiu tanto. A explicação, propõe ele, é que: “No Brasil, a presença
da preta na cozinha classificava-se como indispensável e regular”.
O que não ocorria em outros locais, onde havia até
quem condenasse a colaboração dos negros na cozinha. De fato, ao se
tornarem responsáveis pela alimentação das famílias, essas mulheres
recebiam um fardo e um poder, o de recriar receitas, acrescentar
ingredientes, fundir costumes africanos com portugueses, indígenas e
disseminá-los. Assim, fizeram surgir pratos que, através do sabor,
influenciam, aproximam, encantam.
No começo do século XVII, a palmeira africana da qual
se extrai o azeite de dendê foi introduzida no Brasil, explica Costa
Lima em seu texto As dietas africanas. Com a chegada desse e
outros ingredientes, sabe-se que, no mínimo, em fins do século XVIII,
além de degustados nas residências, os pratos africanos já eram
comumente vendidos nas ruas. É de 1802 uma carta do professor de grego
Vilhena queixando-se da venda a pregão, pelas escravas de ganho, de
mocotós, carurus, vatapás, mingaus, acaçás, acarajés, entre outras
“couzas (sic) insignificantes e vis”. Segundo Costa Lima, desde essa
época, os tabuleiros das baianas já alimentavam a preço acessível a
população subempregada e pobre da cidade com seus quitutes deliciosos.
Com essa venda nas ruas, a serviço dos patrões, muitas chegaram a reunir
quantia suficiente para comprar a própria liberdade.
Também no final do século XVIII acontecia na Bahia um
fenômeno importante para o desenvolvimento da culinária: “Começa a se
organizar em comunidades estruturadas o sistema religioso dos escravos
de origem nagô e iorubá”, como explica Costa Lima. Onde havia orixás,
havia sacrifícios e oferendas de alimento, pois é assim que os africanos
dialogam com seus deuses: fazem seus pratos prediletos, colocam um
pouco em frente ao altar e repartem o resto entre os homens após as
cerimônias (ajeum). “Nesse tempo foram recriadas muitas das comidas
cotidianas dos homens e dos santos. Pois que os santos comem o que os
homens comem”, explica o antropólogo. Foi também por isso que receitas
tão antigas e que vieram de tão longe nunca foram esquecidas. Como
esquecer o ebô de Oxalá, o doboru de Obaluaê, o omolucum de Oxum ou o
acará de Iansã?
Nessa época, onde as panelas eram de barro, o fogão, à
lenha, e não havia eletrodomésticos, o feijão do acarajé era moído
segundo a técnica africana, na pedra de ralar, explicou Manuel Querino,
em 1916, em seu texto A arte culinária na Bahia:
- Mede cinqüenta centímetros de comprimento por vinte e três de largura, tendo cerca de dez centímetros de altura. A face plana em vez de lisa, é ligeiramente picada por canteiro, de modo a torná-la porosa ou crespa. Um rolo de forma cilíndrica, da mesma pedra, impelido para frente e para trás, sobre a pedra, na atitude de quem mói, tritura facilmente o milho, o feijão, o arroz.
Segundo Costa Lima, Querino, que também dá a receita
completa do bolinho africano, é autor da primeira descrição etnográfica
do acarajé.
Nos terreiros mais tradicionais, até hoje se mantém o
hábito de usar a pedra de ralar, pelo menos no preparo dos alimentos
para os santos. A baiana Ivone do Carmo, que alcançou esse tempo,
explica que o ato de moer na pedra servia também como uma espécie de
treinamento corporal para o momento do transe.
- Tinha que passar o feijão na pedra pra dar o gincar no ombro, pra quando o santo pegar a gente, tremer bem o ombro. Hoje o santo é cá embaixo, é um remelexo danado. Naquele tempo era no ombro. A não ser quando é Iansã que pega, porque aí tem que remexer tudo mesmo. Misericórdia! Solta tudo, solta as frangas. É bonito de ver – diz ela, que sabe muito bem que cozinha e magia se misturam.
Antes de sair para fazer as vendas, se protege:
- Na porta da minha casa coloco minhas farofas de mel pra chamar prosperidade, farofa branca, farofa vermelha. Posso levar também uma água de alfazema ou água com mel pra jogar no ponto – conta Ivone, dividindo um pouquinho do seu ritual.
VIDA DE BAIANA
Para ela, o dia começa cedo, às 6h da manhã. Não
demora muito e já está na cozinha, separando os ingredientes. Os
ajudantes vão chegando – filhos, vizinhos, parentes -, e a labuta
começa. Depois de 5h de trabalho duro, está tudo pronto: abará, vatapá,
pimenta, camarões, salada, passarinha, massa do acarajé, do bolinho de
estudante e outras iguarias. Então, é hora de se aprontar
impecavelmente, para agradar os fregueses: longa saia rodada, bata de
rendas, torço e colares. Mas, para que a venda seja boa, pois toda a
família depende disso, é preciso também pedir ajuda ao invisível: água,
cachaça e farofa são despachadas na porta de casa, em homenagem à força
que domina as ruas e pequenas porções dos alimentos vão para os altares
caseiros. Quando chega ao local da venda, ela também lança na rua três
pequenos acarajés, que abrem os caminhos e, sobre o tabuleiro, dispõe
plantas como espada-de-Ogum e arruda, figas, contas, fitas, imagens e
moedas, completando a proteção. A vida da baiana é assim, cheia de
disciplina e rituais. E foi assim, com todo esse rigor, que, na Bahia,
essas mulheres sem instrução, mas cheias de espírito de liderança,
competência e iniciativa, conseguiram se tornar as mais bem sucedidas
empresárias do povo.
O tabuleiro passou por muitas transformações em todos
esses séculos. Antes era ambulante, transportado sobre a cabeça da
baiana, que trazia os bolinhos fritos de casa e os vendia frios,
acompanhados só com pimenta. No final da década de 40, elas começaram a
se fixar em pontos estratégicos, diminuindo o peso no deslocamento, mas
aumentando e muito a quantidade de apetrechos: fogareiro, tacho para o
azeite, panelona para bater a massa, balaio com as comidas, além do
tabuleiro de madeira. Sentadas por anos a fio no mesmo lugar, atendendo
seus fregueses com simpatia e qualidade, elas ganharam fama. Em seu
livro Bahia de Todos os Santos, Jorge Amado fala de Vitorina,
que fritava seus acarajés na porta do bar Anjo Azul, na Rua do Cabeça;
de Damásia da Conceição, em frente à Escola de Belas Artes; de Quitéria
de Brito, na Baixa dos Sapateiros, e de Romélia, mulher de Mestre
Pastinha, que vendia acarajés no Largo do Pelourinho. E, para a
sobremesa, era só ir até Odília, em frente à Alfândega, onde estavam as
melhores cocadas. Boas negociantes, elas souberam se adaptar às
mudanças, sempre buscando locais movimentados. Salvador cresceu para o
norte, por isso elas também seguiram o rumo de Iemanjá.
Há 60 anos atrás, havia duas baianas no Rio Vermelho:
Ubaldina, no Largo de Santana e Bolinha, na Mariquita. Com a perda da
mãe, aos 5 anos, a pequena Lindinalva de Assis foi morar com a avó
Ubaldina e passou a ajudá-la. Aos 7, já sabia cozinhar e despachar os
fregueses. Aos 10, a avó ficou doente e ela teve que assumir o ponto
sozinha, de onde nunca mais saiu. Em quase 50 anos de acarajé, o seu
nome se tornou uma marca de sucesso, conhecida nacionalmente: Dinha.
Além do ponto, se tornou dona de um restaurante no mesmo Largo. Segundo
Dinha – que não pára de trabalhar, vive com a agenda lotada e já chegou a
sustentar 46 pessoas com os seus acarajés -, foram três os fatores que a
ajudaram:
- Sou muitíssimo exigente.
À sua equipe disciplinada, ela ensina:
- O cliente sempre tem razão.
As amizades também foram importantes:
- Conheci muita gente aqui: doutor Sócrates, doutor Diocleciano, doutor Wilson Lins, Jorge Amado. Desde quando Nizan começou na publicidade foi me ajudando. Conheci Gil, Caetano, Oliveto – conta ela, que chega a preparar quatro bufês por dia.
E, além de tudo:
- Foi Deus quem me iluminou e me ajudou a crescer, mesmo sem escolaridade. Hoje quero meus filhos preparados. Todos fizeram faculdade, mas voltaram pro acarajé. Uma assumiu o ponto e o outro é gerente do restaurante – relata, orgulhosa.
Um pouco mais à frente, em Amaralina, chega-se ao
Largo das Baianas, onde vários tabuleiros convivem pacificamente. Quase
todas as baianas moram nas redondezas, chegam pela manhã e só vão embora
depois das 23h, quando chega o carro de aluguel que as leva em casa.
Luzia dos Santos, que trabalha com uma vista privilegiada para o mar,
começou lá há 40 anos, acompanhando a mãe e a avó:
- Foi a profissão que minha mãe me deu e eu adorei. Aqui conheço tudo quanto é gente, a gente se comunica.
Mas, as vendas, diz ela, caíram muito:
- Antes era muito melhor, mesmo no tempo do bonde. Tinha freguês de manhã, de tarde, de noite. Criei quatro filhos e fiz minha casa com o acarajé. Se precisava de um dinheiro era só vir e em uma hora já tinha. Hoje, é tanta baiana na cidade, que a freguesia caiu.
Enquanto frita seus bolinhos num fogareiro a carvão,
por causa do vento forte, ela conta que não pretende desistir e aponta
as soluções: policiamento e iluminação para controlar a ação dos
marginais que afastam os fregueses:
- A gente puxa papo com eles, finge que não vê as coisas, mas aqui tava pegando fogo.
Também pede maior controle no cadastramento de novas baianas:
- Não pode dar carteira pra todo mundo, tem que ver quem sabe trabalhar.
De trabalho, Maria Francisca dos Santos, ou Dona
Chica, entende. Com nove filhos para criar, ela se virava como podia.
Vendia bananas e, um dia, arriscou montar uma barraca na festa da
Pituba. Teve prejuízo, mas lá conheceu uma barraqueira que se ofereceu
para ensiná-la a fazer acarajés. O primeiro ponto foi na praia do Jardim
dos Namorados, há mais de 30 anos. De lá, seguiu para a Avenida Manoel
Dias da Silva, sempre com os seus ajudantes: os nove filhos e filhas que
estudavam num turno e no outro a auxiliavam. Vendendo o seu acarajé
barato e delicioso, Chica foi cativando os moradores do bairro,
admirados com seus quitutes e sua integridade.
- Doutor Avena atendia os meninos e já dava o remédio. Dona Maria Tavares mandava chamar os meninos pra almoçar. Tinha dia, quando a fila estava grande, que Tica, uma branca, vinha me ajudar a despachar.
Em seu modesto tabuleiro, Chica conheceu também
gerentes de banco, advogados e políticos como Paulo Souto, Otto Alencar,
João Durval, Antonio Carlos Magalhães, Roberto Santos e Manoel Castro.
Amigos influentes que a ajudaram com empréstimos, empregos e a continuar
no ponto, de onde tentaram tirá-la duas vezes. Era respeitada também
pelos moleques do bairro, que a chamavam de mãe. Seguindo o exemplo da
mãe lutadora, todos os filhos prosperaram, alguns freqüentaram
universidade e quatro deles ingressaram no ramo do acarajé, como
empresários bem sucedidos: Gregório, Zé, Agnaldo e Gegê.
E, seguindo ainda o curso do mar, lá onde Salvador
termina, encontra-se outro antigo e famoso tabuleiro, o de Jaciara de
Jesus Santos, 48 anos, mais conhecida como Cira. Nascida e criada em
Itapuã, ela conta que faz tudo até hoje como aprendeu com a mãe, Dona
Odete:
- Que aprendeu com uma senhora muito antiga daqui, Dona Sorazinha.
Quando tinha 17 anos, a mãe de Cira faleceu, lhe deixando o ponto, uma panela pequena e um fogão de abanar.
- Naquele tempo, o acarajé era só com pimenta, depois é que fui botando mais coisas.
Ao redor do seu tabuleiro, que fica num quiosque
espaçoso, foram surgindo barracas, bares, casas e shoppings. Hoje, com
uma clientela gigantesca, ela explica que a sua fama cresceu aos poucos:
- O que me ajudou foi o boca a boca. Só depois que meu nome já era bem falado é que foi parar no jornal.
Meia dúzia de moças com guarda-pó branco atendem os
fregueses, mas ao todo são 25 pessoas trabalhando para Cira, que tem
cinco filhos e mantém outro ponto no Rio Vermelho, comandado pela filha
Jussara. Ao contrário da maioria das baianas, ela não gosta de fazer
eventos, porque “desgasta muito”, preferindo se concentrar no seu
produto, que vigia de perto:
- Nunca mudei a qualidade, por isso nunca caí.
Com tanto trabalho, Cira quase não tem tempo para outras coisas:
- De vez em quando dou uma olhada na TV ou vou na praia, mas é difícil.
Vaidosa, se diverte mesmo é com a sua coleção de
roupas de baiana e suas jóias. A outra paixão, é claro, são os acarajés,
que degusta todos os dias.
TABULEIRO FAMILIAR
Eles começam em casa, aprendendo a catar o camarão e a
lavar o feijão. Depois ajudam a carregar o balaio, o tabuleiro e a
atender os clientes. Chegar perto da massa é outro estágio e fritar os
bolinhos, então, só para quem já entende muito do ramo, pois é preciso
muita observação para ser capaz de perceber quando o azeite atinge a
temperatura certa ou identificar a qualidade do dendê apenas pelo
cheiro. Após anos de treino, chega finalmente a hora do aprendiz tomar a
decisão: procurar outra ocupação ou assumir o próprio tabuleiro. A
decisão é séria, pois envolve trabalho duro de domingo a domingo,
comprar o traje apropriado, se cadastrar, pagar taxas e encarar todos os
tipos de clientes. Apesar dos riscos, a opção pelo tabuleiro tem sido
cada vez mais freqüente entre mulheres e homens de várias faixas
etárias, níveis de escolaridade e religiões. O motivo é simples: barato,
nutritivo e delicioso, o acarajé não sai de moda. É um sucesso.
Tentando aumentar os lucros ou apenas garantir o pão
nosso de cada dia, os tabuleiros proliferaram muito nos últimos anos,
trazendo novidades. Surgiram polêmicas, como entre Dinha e Regina, em
1998, disputando o movimentado Largo de Santana; apareceram os “baianos”
de acarajé, sob protesto dos mais ortodoxos, e foi criado o acarajé de
soja, feito por Nira, em Camaçari. Até evangélicos ingressaram no ramo,
como Deny Costa, a Loura do Horto Florestal, apontada como autora do
melhor acarajé numa pesquisa feita pela internet. O acarajé passou a ser
encontrado também em lojas, delicatessens, bares e ampliou o seu espaço
nas prateleiras dos supermercados, onde é vendido em caixinhas. Para
disciplinar tudo isso, associações, prefeituras e governo começaram a
dedicar atenção especial ao tema. O decreto municipal 12.175/1998 e
portarias subseqüentes regulamentam a profissão, padronizam
indumentária, tabuleiro, definem a distância mínima de 50 metros entre
tabuleiros distintos e outros detalhes. Vieram também os cursos, apoio
financeiro e fiscalização.
Quem o conhece como professor de educação física ou
aluno do mestrado em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBa),
nem desconfia, mas José Antonio Vieira é o mesmo Zé que, há mais de 10
anos, assumiu um tabuleiro num shopping de Piatã e hoje já possui mais
dois pontos: um no Cidadela e outro de acarajé a quilo. O pioneiro foi o
seu irmão, Gregório Bastos.
- Estava casado, sem emprego, então comecei no ponto de minha mãe (Dona Chica), que dava a sexta-feira pra mim, até que resolvi botar um ponto meu – conta Gregório, que foi da Marinha.
Ele passou um ano a procura do local, inclusive em
outras capitais do Nordeste, quando obteve sinal positivo de um grande
shopping de Salvador:
- A única exigência era colocar uma baiana pra vender, porque homem não vendia naquela época. Fui usando o jogo de cintura: de vez em quando assumia o tabuleiro, dizia que a baiana tinha pedido demissão, que ia arranjar outra, até que passou a TV, fez uma matéria comigo e eles viram que eu podia ser o garoto-propaganda do shopping e passaram a cobrar a minha presença.
Na época, houve rejeição das associações e não foi
fácil garantir o direito de um homem também vender acarajés, mas a
competência de Gregório acabou falando mais alto.
Para Zé, a história foi parecida: já tinha aprendido
tudo com a mãe, em cujo tabuleiro começou a se exercitar como “baiano” e
também optou pela venda em shopping. Para ele, que é funcionário
público e foi sócio de uma empresa, o tabuleiro terminou sendo a opção
mais rentável. Com nove funcionários, que se dividem entre a fabricação e
venda dos bolinhos, Zé não pára de crescer. Seguindo o exemplo do
irmão, criou também um ponto de venda de acarajé a quilo, na Estrada do
Côco, e trabalha muito com eventos. Assim como a mãe e o irmão, é cheio
de clientes famosos, como artistas e políticos, que fazem questão da sua
presença, pois os dois temperos básicos do acarajé são a pimenta e a
conversa com o vendedor. Casado e com filhos, ele acorda antes das 6h e
trabalha de domingo a domingo para gerenciar tantas atividades ao mesmo
tempo. Gentil e tranqüilo, enquanto cumprimenta os clientes ou atende
mais uma ligação no celular, conta que a sua principal preocupação é com
a qualidade:
- Chegamos a um nível em que a gente não pode deixar cair.
No ramo do acarajé não existe sorte. O
sucesso é fruto de muito trabalho, por isso, só permanecem os fortes.
Sérias, objetivas, elas têm gestos precisos e sempre estão alertas a
tudo o que se passa em volta. Qualquer descuido pode significar uma
queimadura grave, passar troco errado, azedar um alimento. Apontada por
muitos como dona do melhor tabuleiro do centro da cidade, Neinha já
ocupa há quase 30 anos o seu ponto nas Mercês.
- Queria outra coisa na vida, mas não tive opção – diz ela.
Por isso seguiu a tradição iniciada pela avó, que
vendia acarajés na porta de casa, na Liberdade. As suas quatro irmãs
também vendem acarajé, mas as duas filhas não se interessam pelo ramo. A
candidata a sucessora, por enquanto, parece ser a neta de cinco anos:
- Que já pega na colher, ajuda e diz que quer ser baiana.
Apesar de jovem, Lucélia Santos ou
“Neguinha”, é uma lutadora experiente: começou criança, ajudando a mãe,
sempre no ponto em frente ao Farol da Barra:
- No início, tinha uma vergonha danada. Hoje não troco minha profissão por nada. É bem melhor do que ficar em cozinha de branco ou tomar conta de criança dos outros.
Para vender os acarajés, Lucélia e a mãe criaram um método engenhoso:
- Ela mora em São Caetano e faz tudo em casa. Meu pai vem pra cá vender coco e traz a cesta. Eu moro em Plataforma e venho vender. Fico aqui até 10h da noite e mando a cesta por ele.
Rindo, ela diz que o tabuleiro foi sua única opção,
porque não gosta de estudar. Mas atende tantos fregueses estrangeiros,
que já está decidida a aprender inglês no ano que vem, para se aprimorar
na sua profissão que, segundo ela, tem como principal qualidade
proporcionar “dinheiro na hora, ao vivo”. Tanto que, com os acarajés,
ela ganha mais que o marido.
Como empresas familiares que são, cada tabuleiro tem
as suas regras. Alguns empregam membros da família, que podem ter o
direito de assumir o tabuleiro em dias de menor movimento. Outros chegam
a garantir o sustento de dezenas de pessoas, geralmente remuneradas
como diaristas, com valor fixo e sem carteira assinada. O caminho
natural é buscar a independência, como no caso de Tania Fernandes, que
trabalha para Regina, no ponto do Rio Vermelho. Agora que conhece bem
todos os segredos do ramo, ela quer ter seu próprio ponto:
- Vou pra São Paulo, os clientes vivem pedindo. Lá, eles fazem acarajé de mandioca.
Fugindo do desemprego ou apostando na venda do
acarajé como uma lucrativa fonte de renda, somente em Salvador são cerca
de 2.800 pessoas registradas na Associação das Baianas de Acarajé e
Mingau Receptivos e Similares da Bahia (Abam), que divide com a
Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro (Fenacab) a responsabilidade
pelo cadastramento.
Montar uma cozinha no meio da rua, entretanto, é uma
tarefa difícil que nem todos desempenham bem. A comprovação veio em
fevereiro de 2002, no auge do verão baiano, com a divulgação nacional
pela TV de uma pesquisa da Ufba que detectou altos índices de coliformes
fecais em amostras de acarajés coletadas em Salvador. Instalou-se uma
crise, com redução de até 30% nas vendas. O susto passou, mas ficou
nítida a importância de profissionalizar o setor. A partir daí,
intensificaram-se iniciativas que envolvem Abam, Fenacab, governo,
prefeituras, Sebrae, Sesc/Senac, universidades, Vigilância Sanitária e
bancos. Assim como ocorre em Camaçari, em Salvador foi criado um curso
de capacitação sobre higiene na manipulação de alimentos para as
baianas. A segunda etapa foi vistoriar as cozinhas e, depois, conceder
selo de qualidade e linhas de crédito de até R$ 8 mil para reformar
cozinhas, tabuleiros e indumentárias.
Instituído pelo governo federal em 2000, o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial formaliza a inclusão das práticas,
saberes e formas de expressão da cultura popular como bens culturais
merecedores da atenção e estímulo de governos e instituições. Como
explicou a antropóloga Lucieni de Menezes Simão em seu artigo Os mediadores do patrimônio imaterial,
significou a consolidação de uma perspectiva mais antropológica e menos
monumentalista na abordagem da cultura, que dominou os primeiros anos
do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Diversas são as
questões que surgem a partir daí. Como inventariar bens de natureza
imaterial? Qual o papel dos agentes do patrimônio, dos pesquisadores e
daqueles que participam da manifestação? Como o registro pode se
converter em um facilitador de ações que beneficiem as comunidades e
propiciem a transmissão do conhecimento?
Apesar da falta de sinalização, o Memorial das
Baianas é bem localizado, no Belvedere da Sé, Centro Histórico de
Salvador. Depois de visitar a exposição permanente com objetos,
indumentárias e apetrechos culinários do passado e do presente, o
visitante atento encontra a discreta sala onde trabalha a diretoria da
Abam. Em uma mesa, a presidente, Maria Leda Marques. Em outra, a vice,
Rita Santos. Enquanto folheiam a pasta que reúne documentos, recortes,
convites e ofícios, vão relembrando das batalhas vencidas, homenagens,
parceiros, projetos e falam dos próximos desafios. Ali não há tabuleiro
com acarajé fritando, ainda assim amigos e conhecidos também aparecem
com freqüência para um dedo de prosa ou pedir uma ajuda. Orgulhosa da
força das mulheres que representa, Leda não poupa elogio às baianas, mas
não deixa o interlocutor sair iludido. Para ela, as baianas precisam,
sim, de apoio: treinamento, informação, equipamentos melhores, por isso o
seu trabalho nunca termina. Antes de se despedir do visitante, já do
lado de fora, uma parada no mirante de onde se avista a Baía de Todos os
Santos, os sobrados em ruínas e velhos edifícios do bairro do Comércio.
Leda então se lembra de como tudo começou. Fala das escravas, das
ganhadeiras mercado seus produtos pelas ruas, dos primeiros tabuleiros
e, com um olhar emocionado, diz que as baianas ainda sonham em
conquistar, sim, muito mais respeito.











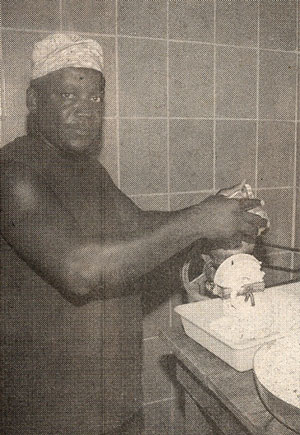


Nenhum comentário:
Postar um comentário